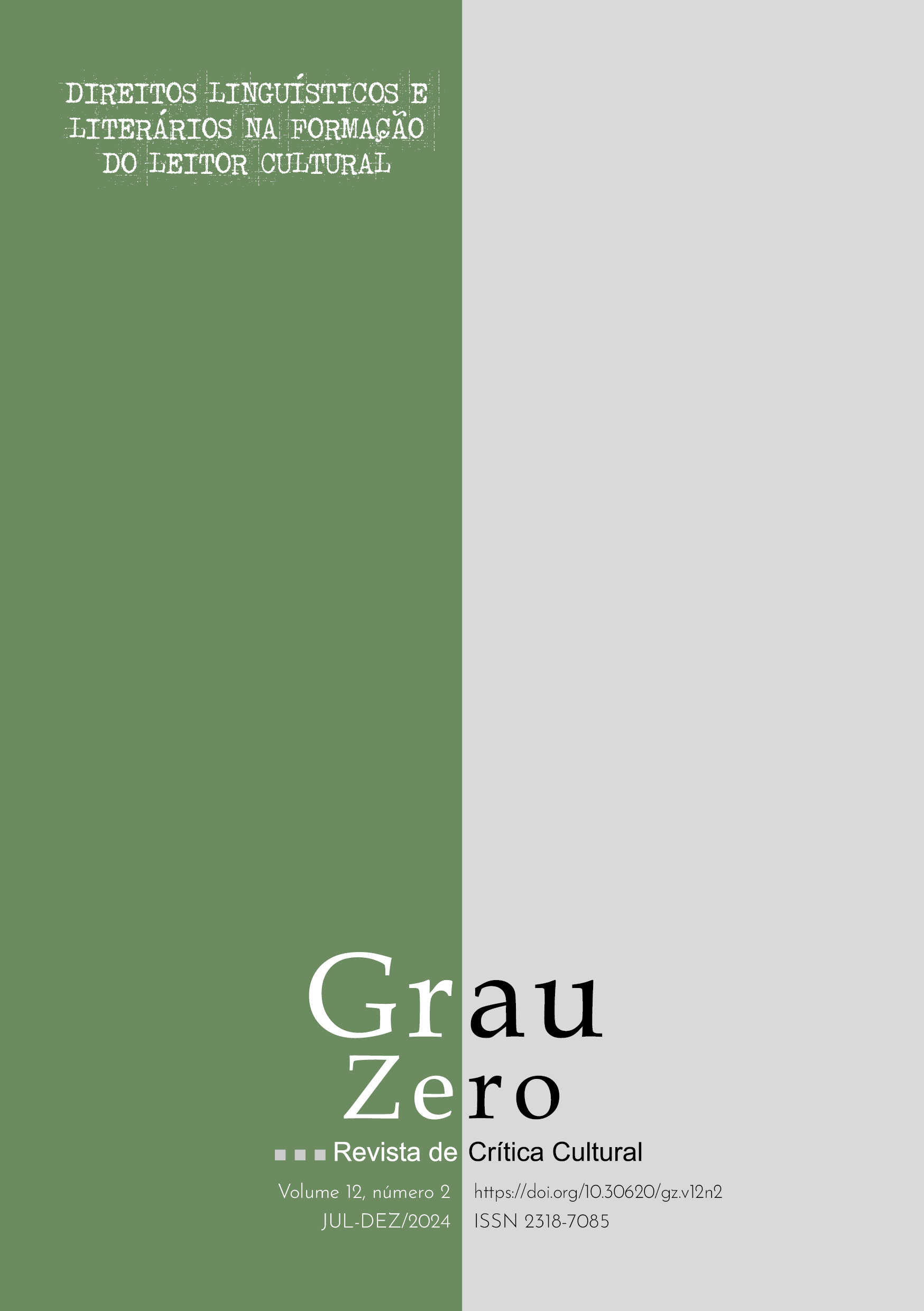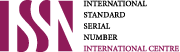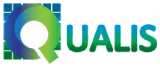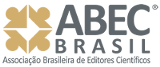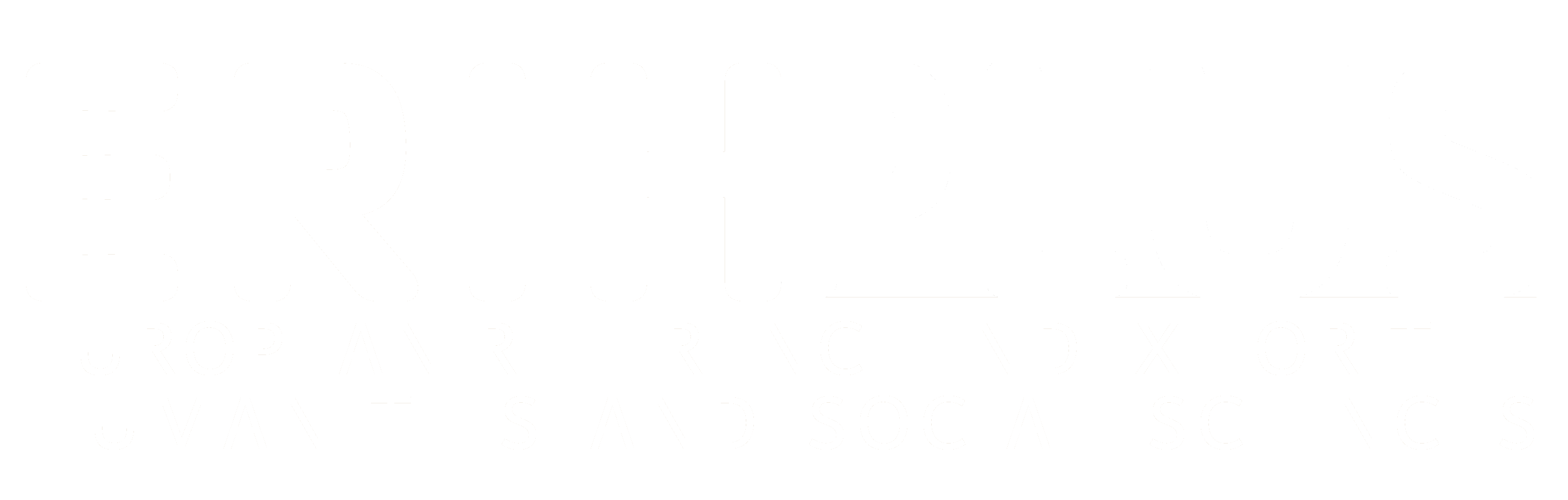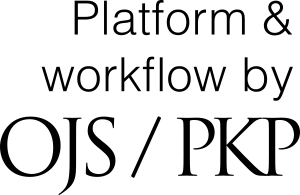Chamada para contribuições Volume 13, nº. 2 (Jul-Dez 2025.2) - O linguístico-literário entre diálogos e rasuras: narração, fabulações e criações na formação docente
A comissão editorial da revista eletrônica Grau Zero, do Programa de Pós-graduação em Crítica Cultural, do Campus II, da UNEB/Alagoinhas-Ba, comunica a todos que está recebendo, até o dia 30 de abril de 2025, contribuições acadêmicas originais (artigos, resenhas e entrevistas), em português, inglês, francês ou espanhol, para compor o v. 12, nº. 2, a ser publicado em agosto de 2025. O tema gerador deste volume é O LINGUÍSTICO-LITERÁRIO ENTRE DIÁLOGOS E RASURAS: NARRAÇÕES, FABULAÇÕES E CRIAÇÕES NA FORMAÇÃO DOCENTE
Saiba mais sobre Chamada para contribuições Volume 13, nº. 2 (Jul-Dez 2025.2) - O linguístico-literário entre diálogos e rasuras: narração, fabulações e criações na formação docente